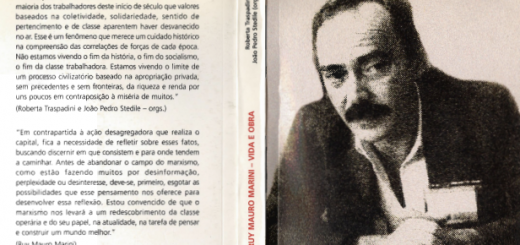Possibilidades e limites da Assembleia Constituinte

Fuente: Publicado originalmente no livro Constituinte e democracia no Brasil hoje, Emir Sader (ed.), São Paulo, Brasiliense, 1985, p. 17-43.
As razões
O país precisa de uma Constituição: se há um ponto pacífico de acordo, na atual conjuntura brasileira, este é, sem dúvida, um deles. As razões dessa unanimidade prendem-se, sem dúvida, ao fato de o Brasil ter vivido 21 anos desprovido de uma, depois que a de 1946 foi rasgada pelos militares. Em 1967, supondo ingenuamente que o regime ditatorial podia já se consolidar, o governo do general Costa e Silva promulgou a de 1967, também rasgada logo após e substituída pela Emenda de 1969; ganhou então status constitucional o Ato Institucional n.º 5, de 13 de dezembro de 1968, peça-chave na plena configuração da ditadura militar. A eleição presidencial indireta de 15 de janeiro de 1985, que pôs fim ao ciclo de governos castrenses contrarrevolucionários, constitui um ponto alto no processo de redemocratização, iniciado com a revogação do AI-5; mas só poderá conduzi-lo a seu termo na medida em que liquidar a anarquia imposta pelas Forças Armadas no plano institucional, dotando o país de uma carta constitucional legítima, por seus procedimentos de elaboração e de aprovação. Até então, os governos militares terão terminado, mas o regime ditatorial instaurado em 1964 continuará vivo.
Há outra razão, porém, mais profunda, respondendo pela aspiração generalizada de uma Constituição. É a mesma que leva, não a exigir a restauração da Carta de 1946, mas a demandar a elaboração de uma nova. Com efeito, muita coisa mudou, no Brasil e no mundo, nestes quarenta anos. Em 1946, emergindo apenas do conflito mundial, as relações internacionais enquadravam-se na rígida bipolaridade estabelecida pelos Estados Unidos e a União Soviética, cujo resultado lógico foi a guerra fria; todos os esforços do governo Reagan para repô-las hoje naqueles trilhos não podem suprimir o conjunto de fatores que trabalham no sentido da multipolaridade e do pluralismo. O declínio da hegemonia norte-americana no bloco capitalista, ao mesmo tempo que favoreceu a liberação de forças no Terceiro Mundo, levou esse bloco a emaranhar-se no jogo das contradições que opõem os Estados Unidos, o Japão e a Europa ocidental, enquanto a expansão e diversificação do mundo socialista acabou por plantar suas bandeiras no solo da própria América Latina. Os frutos desse duplo processo teriam que ser, como estão sendo, a flexibilização ideológica no campo das forças progressistas e populares e o enriquecimento da sua concepção sobre as relações entre o Estado e a sociedade civil. Ficou para trás a visão liberal que presidiu a elaboração da Carta de 1946, cujo fruto mais notável no plano mundial acabou por ser o Fundo Monetário Internacional.
No curso dos anos que se seguiram, forças novas e problemas não previstos irromperam na vida política brasileira. Desde meados da década de 1950, o campesinato iniciou um processo de organização e luta sem precedentes na história do país, cujo resultado seria o de fazer da reforma agrária um tema crucial, que duas décadas de violenta repressão não foram capazes de suprimir. Um pouco antes, as grandes massas urbanas mobilizavam-se em todo o país a propósito da nacionalização do petróleo, para exigir do Estado uma política capaz de preservar nossas riquezas básicas da cobiça dos monopólios estrangeiros e da ineficiência dos nossos empresários. A consciência da mulher sobre seus direitos e a percepção da discriminação de que ela é objeto não afloravam, então, com o vigor com que o fariam nos anos 60 e particularmente nos 70, assim como tampouco estavam presentes as reivindicações à igualdade de direitos e oportunidades de amplos contingentes da população brasileira, discriminados por razões de ordem étnica. O movimento sindical teria que passar, ainda, por momentos decisivos da sua evolução – a participação no movimento nacionalista dos 50, a conquista de fato do direito de greve em 1953, as lutas reformistas e anti-imperialistas de princípios dos 60, a gestação de um novo classismo, a partir de 1968 – para chegar a questionar o esquema em que ficaram encerradas, em 1946, suas relações com o Estado. Enfim, o movimento juvenil tinha pouco a ver, naquela época, com a forma e o conteúdo que começou a assumir nos 50 e a questão ecológica nem sequer se colocava, na medida em que tardaria alguns anos ainda a impor-se o desenvolvimento a qualquer preço, que justifica tudo e qualquer coisa por uns décimos a mais nos índices do produto bruto.
Entende-se, assim, que – mesmo se a ditadura militar não houvesse existido – o país teria hoje necessidade de rever as grandes linhas de sua organização social e política, que a Constituição deve expressar. Na realidade, o que causa espécie não é o fato de se manifestar hoje uma aspiração nacional por uma profunda mudança institucional, mas o de que essa mudança não tenha tido já lugar – e é disso, precisamente, que a ditadura tem de prestar contas à história. Se o desenvolvimento social e institucional do país viu-se freado ou desviado, a responsabilidade cabe ao regime contrarrevolucionário de 1964, que impôs ao Brasil durante duas décadas uma autêntica camisa de força. Por isso mesmo, qualquer processo de mudança e renovação tem como condição sine qua non a supressão dos pontos de amarre dessa ordem opressiva, de modo a liberar para a prática política as forças sociais do país.
Os pré-requisitos
Uma Constituição não é nunca um produto meramente técnico ou o ordenamento das soluções teoricamente mais adequadas aos problemas de um povo. Em sua essência, ela é um conjunto de princípios e normas de organização destinado a reger o processo mediante o qual as classes se relacionam, segundo a participação real que elas têm na vida econômica e social, o grau de consciência a que acederam de seus interesses e de sua força e o nível cultural que elas adquiriram. Neste sentido, não há Constituição que seja, intrinsecamente, melhor que outra; há constituições historicamente mais ou menos adequadas às sociedades a que se aplicam – a vida mesma encarregando-se de corrigir, por procedimentos extraconstitucionais, os desvios que uma Constituição possa ter em relação às suas reais condições de aplicação. Por esta razão, constitui recurso ocioso ou diversionismo pretender enquadrar o debate constituinte em termos de se é melhor um regime presidencialista ou parlamentarista e outras questões deste gênero. O problema brasileiro tem pouco a ver com esta ou aquela forma de estruturar as instituições, residindo mais exatamente em não termos relações sociais capazes de sustentar um sistema plenamente democrático e representativo, do qual o regime político é apenas um elemento – e não o mais importante.
No vazio econômico e político da Colônia e, depois, no Império, a sociedade civil dependeu sempre, no Brasil, do Estado para constituir-se e subsistir. Não se trata de uma peculiaridade nossa, já que a encontramos praticamente em toda a América Latina. Mas, entre nós, a dimensão do território, a desintegração das comunidades regionais e locais, a heterogeneidade da nossa formação étnica, combinaram-se com a supervivência de um regime escravista para existir um aparelho estatal relativamente poderoso a fim de assegurar a dominação de classe. A precoce vinculação econômica ao mercado mundial fez do Estado intermediário avalista e protetor da nossa burguesia em seu relacionamento com as burguesias mais fortes do exterior. O aprofundamento dos laços de dependência, a afirmação da superexploração do trabalho como mecanismo permanente de reprodução capitalista e a monopolização da economia em favor de um núcleo reduzido de grupos nacionais e estrangeiros, ávidos de superlucros, fizeram o resto.
Deriva, sem dúvida, desse complexo de fatores, a nossa vocação estatista, que sobrepôs sempre o Estado à sociedade civil e o converteu no instrumento por excelência para moldá-la e transformá-la – em benefício, naturalmente, das frações burguesas mais dinâmicas e, por isso mesmo, com maior capacidade de pressão sobre o aparelho estatal. A história da política brasileira tem tido, em consequência, como protagonistas os grupos mais fortes da classe dominante. Para que isso fosse assim, esta não hesitou nunca em impor às classes dominadas mecanismos de contenção que, ao menor sobressalto, foram defendidos com violência. 1964 foi, nesse processo, apenas um episódio. São esses mecanismos que é preciso fazer saltar, se pretendemos que a Constituição que se vislumbra abra ao povo brasileiro perspectivas de um futuro melhor.
Destacam-se, entre eles, alguns elos principais que – mesmo que fossem somente pelo que simbolizam, embora haja muito mais – devem ser rotos com particular determinação. Está primeiro, a absurda e denigrante proibição de voto aos analfabetos e soldados. Incontáveis autores e lutadores sociais acumularam contra isso uma argumentação imponente, que é desnecessário resenhar aqui. Assinalemos, tão só, que homens que contribuem com seu trabalho, como quaisquer outros, para a economia nacional; que respondem pelos seus atos perante a lei, como quaisquer outros; que, como quaisquer outros, pagam impostos, vêem-se privados do direito de eleger seus governantes sob pretexto de que não tiveram as possibilidades mínimas de instrução. Na realidade, o que se quer é excluir da contenda política a imensa massa dos camponeses e uma parcela ainda significativa do proletariado pobre das cidades. Em relação aos militares sem graduação, pretende-se impedir sua participação política com o argumento de que esta contraria o caráter profissional das Forças Armadas, como se somente os militares graduados pudessem, votando, preservar esse profissionalismo; mas não é a profissionalização das Forças Armadas que se quer preservar, é o seu caráter elitista e a simbiose permanente que, através de seus extratos superiores, elas mantêm com a classe dominante.
Um segundo elo do cordão sanitário que a classe dominante estabelece em torno às urnas é o sistema partidário. Com a rara exceção do regime criado pela Constituição de 1946 – corrigido, no ano seguinte, pelo ato que colocou na ilegalidade o Partido Comunista – tem-se impedido sistematicamente no Brasil a livre organização das correntes ideológicas e políticas de esquerda, recorrendo-se para isso a todo tipo de casuísmo. Impõe-se, hoje, assegurar a todas as forças políticas o direito de representação na Assembleia Constituinte, para o que é necessário abolir a lei partidária aprovada pela ditadura em 1979. A nova lei terá ainda um problema a resolver: o de garantir aos cidadãos sem partido o direito de postular sua candidatura. No nosso país, as candidaturas avulsas são tanto mais necessárias porquanto os partidos não puderam, tradicionalmente, corresponder à realidade do espectro político e ideológico; isso se deve às restrições impostas à organização partidária, mas também, especificamente, ao fato de vivermos mais de duas décadas sob um regime ditatorial e contrarrevolucionário que desorganizou e deformou esse espectro, na forma que começara a assumir no início dos anos 60. Durante esse período, a participação cívica dos cidadãos viu-se restringida, numa ampla medida, à militância em organizações e movimentos sociais, que não se representam adequadamente nos partidos criados artificialmente depois de 1979 ou simplesmente não têm com eles afinidade. É indispensável, pois, dar-lhes os meios para representar-se diretamente, sem a mediação dos partidos, sobretudo porque aí estão, muitas vezes, os cidadãos mais conscientes e os militantes mais aguerridos. A formação de partidos políticos realmente representativos da sociedade brasileira é ainda uma etapa a ser vivida e depende da afirmação e consolidação da prática democrática.
A implantação no país do voto universal e a definição de critérios de representação flexíveis e adequados à nossa realidade são condições fundamentais de uma Assembleia capaz de elaborar uma Constituição que seja algo mais que a contrafação jurídica das aspirações nacionais. Mas não bastam. Há, pelo menos, duas questões mais a resolver. A primeira refere-se à propaganda eleitoral, particularmente através do rádio e da televisão. Esta matéria terá de ser regulada de maneira a garantir a todos os candidatos o acesso à opinião pública, abolindo-se paralelamente o regime de censura atualmente vigente. A nação deve ter presente que as estações de rádio e televisão correspondem a simples concessões outorgadas pelo Estado, num terreno no qual – desde o Governo Goulart – ele tem o monopólio absoluto; nesse sentido, cabe reformular o Conselho Nacional de Telecomunicações – assegurando a presença nele dos partidos políticos e das organizações sociais e culturais – e revigorá-lo em suas funções (castradas em 1967), a fim de que a sociedade possa orientar e fiscalizar eficazmente o uso dessas concessões.
A segunda questão a resolver-se previamente à eleição de uma Assembleia Constituinte é o desmantelamento do aparelho repressivo – e, com ele, da legislação correspondente – em particular o Serviço Nacional de Informações. Órgão criado pela ditadura, com dotação orçamentária secreta e com direito a realizar operações sigilosas, o que se sabe dele é realmente pouco. O rechaço generalizado que suscita na sociedade brasileira se deve sobretudo à sua filiação direta à ideologia da contrarrevolução – a doutrina da segurança nacional – e à sua presença perceptível em distintos âmbitos da vida social. Por sua inspiração ideológica, o SNI aparece como expressão do princípio segundo o qual o movimento popular, por suas aspirações de mudança (ou por sua motivação “subversiva”, segundo a doutrina), constitui o “inimigo interno” do Estado – o que faz do organismo algo distinto, por exemplo, à CIA norte-americana, cujo conceito de “inimigo” é muito mais tradicional, e leva-o a assemelhar-se às polícias secretas dos regimes fascistas. Por sua presença visível – nos centros de informação instalados nos órgãos da administração direta e indireta e que não poupa as instituições castrenses, onde seus membros constituem uma confraria, que pretere o pessoal de carreira nas promoções e na assignação de cargos – o SNI é um corpo estranho à sociedade e ao próprio Estado, mas que infiltra ambos até a medula com o seu policialismo corrosivo, convertido em fonte de poder, de privilégio e de corrupção. Sua supressão, como instituição-símbolo da ditadura, é uma necessidade, para que o país possa começar a exorcizar os fantasmas dessa idade média que lhe foi imposta pelos militares e pelos monopólios. Até os quartéis respirarão aliviados quando isto se der. Tanto mais que é clara a evolução do pensamento militar, particularmente depois dos ensinamentos deixados pela Guerra das Malvinas, no sentido de abandonar a ideia de que compete às Forças Armadas a guarda da segurança nacional, para fazer disso tarefa de toda a cidadania, e de dar mais ênfase às suas responsabilidades na defesa nacional.
Somente depois de satisfeitas essas condições, isto é, de romper-se os elos duros da corrente que aprisiona a capacidade das massas para fazer-se representar, é que será possível colocar seriamente o problema da formação de uma Assembleia Constituinte. Ela não pode coincidir, nos termos em que está aqui sendo tratada, com o Congresso: não só o modo de eleição de seus representantes não corresponde ao que se adota para os cargos parlamentares – que não comporta, por exemplo, o candidato avulso –, como o processo de eleição para o parlamento, que mobiliza considerável soma de interesses e de recursos financeiros, falsearia completamente o caráter dessa Assembleia. Além do mais, sua função não deve implicar a consideração imediata e contingente do alcance das medidas que ela vier a tomar – o que não deixará de ter presente o Congresso, se este for simplesmente a sua outra cara – mas simplesmente ater-se às questões dos meios para realizá-los.
Dir-se-á, com algo de razão, que a separação entre a Assembleia e o Congresso poderá levá-la a afastar-se da realidade concreta e enveredar pelos caminhos do utopismo. Praza aos céus que assim seja: uma Assembleia Constituinte que mantivesse excessivamente os pés na terra e se limitasse a regulamentar o que já existe ficaria muito aquém do papel que deve desempenhar. Brotando da vida real, do húmus fecundo da economia e da luta de classes, o direito é algo mais que o reconhecimento dos fatos; ele é também a previsão ou desejo de que estes evoluam neste ou naquele sentido e contém, por isso mesmo, em semente, a visão do que pode ser o desenvolvimento futuro da sociedade. Neste sentido, o direito tem um caráter educativo, que, mais que qualquer outra lei, a Constituição deve captar e expressar. A Assembleia Constituinte deverá constituir-se na crista de uma vasta campanha popular, cujas amplitude e profundidade foram já anunciadas pelas mobilizações de massas dos últimos anos. Duvidar de que o povo brasileiro esteja maduro para discutir com entusiasmo o projeto de construção de uma nova sociedade, a partir dos escombros deixados pelo regime militar, é cerrar os olhos para coisas tão evidentes como a campanha em favor das eleições diretas, em 1984. Que se instaure sem restrições o voto universal; que não se subtraia às massas o direito de votar livremente em candidatos surgidos dentro ou fora dos partidos; que se assegurem a todos eles condições equitativas em matéria de propaganda e se suprima a censura; que se desmantele o aparelho repressivo e se dissolva o SNI – e o país será palco da maior demonstração de consciência cívica da sua história.
A correlação de forças (I)
O eixo dessa mobilização, a questão central a discutir será, sem dúvida, o alcance e os limites da relação Estado-sociedade civil. Isso se deve ao cansaço provocado pelos vinte anos de estatismo desenfreado a que fomos submetidos, mas também a que em todo o mundo se assiste a um questionamento cada vez mais forte da sufocação da sociedade civil pelo Estado, que se impôs particularmente depois dos anos 30. Aí está, em países como Cuba, a experiência cada vez mais rica do poder popular. Nos próprios centros capitalistas, esse questionamento fez grandes progressos, tanto na sua versão de esquerda – veiculada pelo neoanarquismo europeu, que encontra sua expressão mais acabada na obra de Antonio Negri – como na sua versão de direita – de que a “nova direita” norte-americana constitui o melhor exemplo. No Brasil, a crítica ao estatismo conformou pelo menos três vertentes principais.
A primeira surge a partir de uma fração do grande capital, em que se destacam as empresas multinacionais, particularmente as de origem norte-americana, e a burguesia financeira, cujos interesses são contrariados pela acelerada expansão da ação econômica do Estado, desde o “milagre”, e a tendência do governo Geisel a estreitar os laços econômicos, financeiros e tecnológicos com a Europa ocidental e o Japão. Essa tendência configura-se no contexto da busca pelo regime militar de afirmação do subimperialismo e – traço inerente a este – não encerrava uma real ameaça à dependência tradicional do país em relação aos Estados Unidos. Tratava-se antes de mais um episódio da política de chantagem (que ideólogos seus, como o general Golbery do Couto e Silva, preferem chamar, delicadamente, de “barganha”), que a burguesia brasileira e seu Estado sempre praticaram e que os levou, no período de pré-guerra, a jogar entre a Alemanha e os Estados Unidos, no sentido de obter vantagens como, por exemplo a instalação da indústria siderúrgica no país. Como em episódios anteriores – verbigrácia, a adesão à política norte-americana, durante a guerra mundial – ela trazia em seu ventre a recomposição com os Estados Unidos, como se viu na firma do acordo de consultas mútuas com esse país, em 1976.
Isso não impediu, porém, que o aumento das relações com a Europa e o Japão – manifestos na expansão do comércio com essas áreas, no crescimento dos investimentos diretos daí procedentes e na subida em flecha do endividamento para com elas, estimulado pelas disponibilidades então existentes em matéria de eurodólares, assim como no aprofundamento da dependência tecnológica (ver, por exemplo, o caso da política nuclear) – preocupasse os monopólios norte-americanos que operam no Brasil e os empresários a eles associados, levando-os a postular limitações à margem de ação do Estado. Lança-se, assim, a campanha pela desestatização, que favoreceu, de certa maneira, a ascensão da oposição à ditadura, nos moldes em que se desenvolveu a partir de 1974.
Esse favorecimento deu-se, precisamente, pelo impulso à segunda linha de crítica ao estatismo, através da qual fez-se presente no debate outra fração da grande burguesia. Assentada na indústria pesada, em particular a mecânica, metalúrgica e extrativa mineral, essa fração não se opunha à abertura que o governo promovia em direção ao capitalismo euro-japonês – com o qual ela vinha já estabelecendo laços crescentes de dependência – mas participava do anseio generalizado de sua classe no sentido de controlar diretamente a política econômica e, sobretudo, as empresas estatais, cujos altos lucros eram para todos os seus membros objeto de cobiça. Assim, ela contrapôs à campanha antiestatizante uma pregação democratizante e liberal que foi assumida com entusiasmo pela intelectualidade progressista, até então órfã de apoio burguês; o livro de Fernando Henrique Cardoso, Autoritarismo e democratização,marca um aumento significativo do processo mediante o qual os intelectuais puseram-se a serviço da ideologia burguesa, podendo, a partir daí, aspirar ao ingresso na elite política.
A terceira posição crítica ao estatismo tem seu ponto de amarre nas aspirações da corrente operária classista, que despontara em 1968, sendo violentamente reprimida, e das forças de esquerda a ela vinculadas. De extração pequeno-burguesa, em sua maioria, e tendo sofrido no exílio, principalmente na Europa, a influência do neoanarquismo, os militantes dessa esquerda tenderam a orientar as aspirações do movimento operário no sentido autonomista. A roupagem podia ser importada, o que ela revestia era profundamente nacional: o anseio dos trabalhadores para – resgatando a tradição independente e libertária que fora a sua até os anos 30 – romper os mecanismos da legislação laboral, que os subordinam ao Estado e que o regime militar acentuou até o limite, assim como pôr fim à política de atrelamento à burguesia industrial, praticada por suas lideranças desde o Estado Novo. O descontentamento da pequena burguesia, em particular os estudantes e as novas classes médias assalariadas, com o caráter ditatorial do regime – que, embora outorgando-lhe privilégios na esfera do consumo, feria sua consciência democrática e, através da censura, submetia-a a um intolerável obscurantismo cultural – aproximou-a do movimento operário, o que se reforçou quando, ao entrar em crise o “milagre”, seus privilégios começaram a ser cortados. O caráter de classe da pequena burguesia contribuiu para abrir um espaço ainda maior para a difusão do neo-anarquismo, especialmente entre os jovens.
Durante este período, as correntes populares, surgidas do movimento operário e da pequena burguesia, conviveram com a burguesia industrial, dentro da frente de oposição à ditadura. Foram os deslindamentos provocados pelas ações grevistas do proletariado industrial, a partir de 1978, e pela reformulação partidária de 1980, que originaram pontos de ruptura nas suas relações. Desprenderam-se, então, as forças ligadas ao setor operário classista, para conformar o Partido dos Trabalhadores, e as que – tendo como centro de gravidade a figura de Leonel Brizola – deram-se como meta resgatar a herança nacional-trabalhista e transformá-la numa via brasileira ao socialismo. Permaneceram dentro do partido em que se converteu a frente de oposição – o Partido do Movimento Democrático Brasileiro – setores de esquerda vinculados à velha tradição comunista (à exceção do que, sob a liderança do ex-secretário geral do Partido Comunista Brasileiro, Luís Carlos Prestes, acabou por situar-se na esfera de influência do brizolismo), as classes médias assalariadas e as lideranças operárias que, acomodando-se às condições impostas pela ditadura, chegaram a controlar as posições-chave do aparelho sindical, especialmente as federações e confederações.
Esses deslocamentos corresponderam à afirmação da hegemonia burguesa no PMDB. A partir daí, a grande burguesia inicia um conjunto de manobras que – passando pela neutralização da extrema direita civil e militar e pelo isolamento e dispersão dos setores populares contestatários, dentro e fora do partido – visava à recomposição de suas forças e a reunificar o campo burguês. O êxito dessa tática – consagrada pela formação da Aliança Democrática – permitiu à burguesia impor-se como força dirigente no processo de liquidação da ditadura militar, transformando-o numa transição livre de sobressaltos. Reside aí o segredo da continuidade que se encerra nas mudanças políticas atualmente em curso no Brasil
A correlação de forças (II)
É nesse contexto que se vai desenrolar o debate e a elaboração da Constituição e que, portanto, as forças políticas em confronto levantarão seus projetos de reforma à relação Estado-sociedade civil. Essas forças tendem a alinhar-se de maneira distinta enquanto à posição que tinham em fins da década passada. No campo burguês, a recomposição de forças ali operada reduz consideravelmente o alcance das disputas em torno à desestatização. O liberalismo – aqui e ali tingido de tons social-democratizantes que não desfiguram sua essência – tornou-se a ideologia dominante, permitindo à burguesia restaurar o fio de uma tradição somente rota em 1937 e 1968, assim como adequar-se aos ventos que sopram nos países capitalistas desenvolvidos, em particular os Estados Unidos. O apetite pelo butim representado pelas empresas públicas e a hegemonia finalmente conquistada, que autoriza a sonhar com o manejo discricionário do aparelho do Estado, só faz reforçar a tendência da grande burguesia no sentido de estabelecer de maneira ampla o regime liberal.
É verdade que, como no passado, a unidade burguesa continua ameaçada pela diferenciação interna do grande capital. Ela se expressa tanto no peso crescente da grande indústria pesada e sua contraposição à indústria produtora de bens de consumo suntuário, como na diversificação dos laços financeiros e tecnológicos com o exterior, o que desloca a presença esmagadora dos Estados Unidos em favor da Europa ocidental e do Japão. Esse processo, que se configurou plenamente na década de 1970, vem sendo, porém, contido e reorientado pela ofensiva norte-americana posterior a 1980 no plano internacional. Dessa ofensiva, interessa reter aqui dois aspectos: o privilegiamento da aliança com o Japão, em detrimento da Europa (que parece destinada a pagar os pratos rotos da crise mundial, junto com os países do Terceiro Mundo) e o esforço por recuperar plenamente a hegemonia na América Latina. A moratória mexicana de 1982 e o subsequente passo dado pelo Brasil, submetendo-se ao Fundo Monetário Internacional, foi um momento decisivo para a reconquista dessa hegemonia; atualmente, as pretensões autonomistas das burguesias latino-americanas são coisas do passado e os Estados Unidos – servindo-se destramente do FMI – restauram seu reinado na região, ao mesmo tempo que utilizam sua força econômica e política para promover sua própria expansão e subjugar inteiramente a economia europeia.
Nesse contexto, diminui a margem de manobra da burguesia brasileira para a prática da política de chantagem – sendo previsível, por isto mesmo, o realinhamento diplomático com os Estados Unidos, na linha traçada pelo Governo Castelo Branco, em 1964, agora matizada por um conjunto de fatores (entre eles, a necessidade do Brasil de manter em certo grau sua liderança na América Latina, os interesses constituídos em suas relações com o mundo árabe e a pujança econômica dos países socialistas, mais evidente hoje que há vinte anos, e que faz deles um campo de atração de inegável vigor). O realinhamento se fará sentir, sobretudo, no plano econômico, onde, além do mais, os resultados da violenta recessão dos anos 80 trabalham no sentido de debilitar as diferenças entre a indústria suntuária e a indústria pesada, ambas coincidindo na reorientação da sua produção para o mercado mundial.
Juntamente com o consumo interno suntuário e o mercado criado pelos gastos estatais, o comércio exterior formou, desde o “milagre”, o tripé em que repousa o esquema de realização dinâmica da economia brasileira. A restrição dos gastos estatais e o declínio do consumo suntuário – pela compressão salarial, que afeta principalmente as classes médias – conferem importância crescente à exportação como esfera de mercado, com o que se homogeneizam relativamente os interesses das diversas frações do grande capital, nesse ponto particularmente sensível de seu relacionamento. O estreitamento dos laços comerciais, financeiros e tecnológicos com os Estados Unidos, que se observa nos últimos anos, leva ao mesmo resultado. Nestas condições, parece pouco realista esperar, a curto prazo, o agravamento das contradições latentes da grande burguesia, independentemente dos atritos e disputas normais ao seu processo de evolução. É noutras áreas do campo burguês que as contradições poderão aflorar com mais força.
Uma delas é aquele ponto de interseção que une e separa, ao mesmo tempo, o grande capital e as Forças Armadas. O regime de 1964 propiciou a formação de um bloco burguês-militar, cuja relativa solidez responde pela sua longa duração. Alimentando propósitos internacionais expansionistas, simultaneamente econômicos e militares; coincidindo, por ambição de grandeza ou de lucro, na conveniência de realizar grandes investimentos; promovendo a aceleração do crescimento econômico, espaço natural de uma maior acumulação de capital e de criação de uma base para um projeto de potência – empresários e militares convergiram para uma política determinada e constituíram interesses comuns, no âmbito da administração e mesmo da propriedade das empresas, assim como no seu relacionamento social, onde criaram laços interpersonais. Essa simbiose entre uma classe e um estamento teria fatalmente que se realizar de maneira parcial e levar a um desenvolvimento desigual das duas partes involucradas; só o controle direto do Estado pelos militares e a consequente amplitude que ele conferia à sua regência econômica paliaram essa evolução assimétrica, ocultando aos militares o fato de que a simbiose proporcionava ao capital possibilidades muito maiores de aproveitamento que às Forças Armadas.
Chegando a um certo ponto, esse processo permitiu à burguesia colocar a inversão dos termos da aliança, isto é, exigir a subordinação das Forças Armadas a si, tanto mais que isso coincidia com o movimento geral da sociedade. Nestes termos, a ditadura militar chega ao seu fim sem que os militares tenham podido institucionalizar sua reitoria sobre o Estado e configurar neste um quarto poder, ficando o tema entregue à futura Assembleia Constituinte. São muitos os problemas que terão que ser resolvidos, neste particular, entre eles as funções do Conselho de Segurança Nacional, a sorte do SNI, e, muito especialmente, o grau de interferência das Forças Armadas nas áreas econômico-estratégicas que elas se haviam reservado: a indústria bélica, energética (especialmente a nuclear) e a da informática. Setores notavelmente dinâmicos e rentáveis, constituirão sem dúvida pontos de atração para diversos grupos burgueses nacionais e estrangeiros, que investirão sobre eles brandindo a bandeira do liberalismo – quando, para o estamento militar, é indispensável que eles fiquem sob estrito controle estatal. Esse choque de interesses abrirá brechas profundas no bloco burguês-militar, fazendo reflorescer o nacionalismo nas Forças Armadas.
Isso se dará com mais razão ainda pelo fato de o liberalismo do grande capital ter pouco a oferecer às camadas médias e pequenas da burguesia. A rápida acumulação de capital dos anos 70 e a acentuação dos processos de concentração e centralização que ela propiciou ampliaram a brecha entre a grande burguesia monopólica e o resto da classe. A imposição da política de austeridade, nos moldes do FMI, a partir de 1980, e sua adoção declarada, depois de 1982, agravando as tendências recessivas da economia, contribuíram para acelerar ainda mais a monopolização. Os últimos dias da ditadura militar estão sendo vividos num clima de total insegurança, com fragorosas quebras estourando no setor industrial e financeiro. A prática de uma política liberal representará, para amplos setores da burguesia que têm seu processo de reprodução ligado umbilicalmente ao Estado, ficar à mercê da voracidade dos grandes grupos nacionais e estrangeiros, particularmente numa situação em que seu âmbito natural de vida – o mercado interno – se mantém deprimido e o mercado externo – ao qual, de todos os modos, a maioria deles não tem acesso – oferece perspectivas pouco animadoras. Nestas condições, serão muitos os que, dentro da própria burguesia, se levantarão em favor da intervenção estatal na economia, do protecionismo alfandegário, do nacionalismo em geral e buscarão – fora do campo burguês, se necessário – apoio para a defesa dos seus interesses.
Mas será no campo popular que a resistência ao liberalismo grão-burguês assumirá caráter mais radical. De partida, é evidente que os trabalhadores não têm nenhuma razão para compactuar com o festim que o grande capital está preparando e que tem, como prato forte, as empresas públicas mais rentáveis e eficientes. A própria reação dos assalariados ligados a elas, dotados de considerável nível de organização, será causa suficiente para deflagrar uma formidável mobilização popular contra sua transferência ao setor privado. O liberalismo é tanto mais estranho aos interesses da classe operária quanto – como ocorreu sempre no Brasil – tende a apresentar-se unido a um espírito eminentemente conservador e autoritário, no plano social, político e cultural.
Há, ainda, um fator de peso a considerar: as classes médias assalariadas. Derivadas da pequena burguesia, da qual conservam os hábitos e a ideologia, elas têm tido suas condições de reprodução social cada vez mais assimiladas às da classe operária. Nos idos do “milagre” isso foi mascarado pelos privilégios a que acederam em matéria de remuneração e consumo. Desde 1975, porém, a situação começou a mudar, até configurar claramente, nos anos 80, um quadro no qual, além da proletarização a que haviam sido submetidas, passaram a ser objeto também de aguda pauperização. Explica-se, assim, que – respondendo à convocatória lançada pelo proletariado industrial em 1978 – as classes médias assalariadas, junto aos trabalhadores de serviços não industriais, acentuassem suas mobilizações reivindicativas e grevistas a partir de 1979. Por suas formas de organização e luta, elas aproximam-se cada vez mais da classe operária, tendendo a constituir um verdadeiro proletariado de serviços – trabalhadores assalariados dotados de uma consciência que só se adquire na prática diária da luta de classes.
Os principais segmentos das classes médias – professores, médicos, bancários e, por extensão, os estudantes – estão, em menor grau, inseridos na esfera pública ou dela dependem, pela via do controle ou das subvenções. Suas mobilizações recentes apontam no sentido de exigir a ampliação da intervenção estatal, coincidindo com a aspiração de vastos setores populares, que necessitam do apoio direto do Estado para resolver seus problemas de saúde, educação, transporte e até mesmo alimentação e emprego. Por sua posição na sociedade – em certa medida, estratégica, dado o quase monopólio do saber e da cultura que elas detêm – as classes médias tendem a ser um fator relevante no movimento de resistência ao liberalismo, funcionando ali como a argamassa capaz de assegurar a ensamblagem dos elementos sólidos que se aprestam a constituí-lo.
Configuradas, assim, as linhas de alianças e enfrentamentos em torno à questão da reorganização da sociedade brasileira, é evidente que as forças políticas vinculadas ao movimento popular terão que contar com uma plataforma comum. Só um quadro básico de referências garantirá, com efeito, a formação de um amplo movimento político, capaz de fazer frente ao bloco constituído pelo grande capital nacional e estrangeiro. No processo de sua elaboração, ficará evidente que as colocações até agora avançadas por essas forças só são contraditórias na aparência, as contradições resultando antes do seu caráter inacabado e impreciso que de posições de princípio realmente antagônicas.
A falácia liberal
O liberalismo no Brasil tem sido a doutrina pela qual a burguesia fixa limites à ação do Estado em relação aos interesses particulares dos grupos que a compõe, especialmente no campo econômico, ao mesmo tempo que exige dele, no âmbito político e social, uma intervenção decidida para quebrar qualquer resistência ao império do capital. Ele encerra, pois, um conteúdo altamente autoritário e repressivo, não causando surpresa o fato de que tenham sido precisamente as suas bandeiras que o regime militar empunhou inicialmente, com Castelo Branco; aí estão, para demonstrá-lo, medidas como a supressão da estabilidade no emprego para os trabalhadores, adotada em seu nome. Foram os enfrentamentos interburgueses e a rápida recuperação do movimento popular, a partir de 1966, que levaram de roldão as pretensões liberais do regime. As condições para a plena vigência do liberalismo são, com efeito, a relativa comunidade de propósitos e a unidade de ação da burguesia – sem o que a livre iniciativa de seus grupos implica a criação de um clima de competição exacerbada e, portanto, de conflito – e a desorganização do campo popular, de modo a permitir que a repressão seja pontual e seletiva, dispensando o exercício maciço da violência
As condições atuais da luta de classes tendem a afastar-se desses parâmetros. Nem a burguesia parece capaz de manter sua unidade sob a hegemonia do grande capital, nem o campo popular encontra-se totalmente desorganizado, uma vez que o grau de desenvolvimento das organizações sociais é talvez o mais alto já registrado em nossa história. Este último fator obriga o liberalismo a adotar disfarces de corte social-democrata, precisamente porque a burguesia precisa dividir e dispersar o movimento popular; dispõe-se, para isso, a fazer concessões a seus setores mais conscientes e combativos, em particular o proletariado da grande indústria e segmentos definidos do moderno proletariado de serviços. Essa é a essência da política social-democrata: o isolamento e a subordinação de setores específicos do movimento de massas para impor ao conjunto deste a hegemonia burguesa.
Para as massas, o problema apresenta-se de maneira rigorosamente inversa. Consiste, antes de mais nada em assegurar a unidade do seu movimento e orientá-lo no sentido de suprimir os obstáculos que a ação do Estado cria ao seu desenvolvimento. O antiestatismo não tem aqui a conotação eminentemente econômica que tem para a burguesia; pelo contrário, é fundamentalmente político. Seu alvo não é a empresa pública; é a legislação trabalhista, que subordina os sindicatos e obstaculiza a luta dos trabalhadores; é a legislação partidária, que impede a livre organização das forças populares; é a legislação eleitoral, que subtrai o preenchimento de cargos públicos ao voto popular; é a legislação sobre os meios de comunicação, que faculta ao Estado distribuir sem controle algum concessões para rádio e televisão e estabelece mecanismos discricionários de censura sobre a produção cultural; é a legislação dita de segurança nacional, que responsabiliza os cidadãos pela guarda de princípios e preceitos que o Estado estabeleceu para submetê-los. Nesta perspectiva, cabe lutar por uma Constituição que garanta e respeite a autonomia popular frente ao Estado; isto é, por uma Constituição que não seja simplesmente liberal, como pretende a burguesia, mas essencialmente democrática.
A questão da intervenção estatal na vida econômica coloca-se, então, de maneira radicalmente diferente. A necessidade de que o Estado exerça funções de regulação é inquestionável para as massas, na medida em que, pela posição central que ele ocupa, lhes é mais fácil concentrar sobre ele suas forças, ao invés de dispersá-las entre a multiplicidade dos patrões. Isso é ainda mais certo porquanto, num país dependente como o Brasil, o processo de exploração capitalista não passa somente pelo capital interno, mas é também fortemente influído pelos grupos econômicos internacionais; as massas – e tampouco, necessário é reconhecer, o capital interno – não tem meios diretos para atuar sobre esses fatores externos, tornando-se indispensável recorrer à intermediação do Estado, na área alfandegária, monetária e financeira. Assim, quer se trate da ação interna, quer se trate da ação externa do capital, o que se impõe não é suprimir a regulação estatal, mas submetê-la mais diretamente à influência das massas – o que supõe, por certo, níveis mais altos da unidade, consciência e organização. Observemos que uma reivindicação hoje admitida como legítima – a livre contratação salarial – não elimina a necessidade da regulação estatal nessa matéria; o Estado deverá continuar fixando os níveis de salário mínimo, de que dependem para sobreviver amplos setores de trabalhadores, que não dispõem de organização suficiente para garanti-los; mas, como esses níveis, por sua vez, influenciam de maneira decisiva a determinação dos pisos salariais e, por seu intermédio, toda a escala de remunerações do trabalho, eles interessam ao conjunto dos assalariados.
A regulação estatal não se realiza somente de maneira normativa. Ela resulta também da prestação de serviços pelo Estado, sobretudo ali onde a reprodução do capital, parecendo operar na esfera da circulação, está enfrentada a requisitos sine qua non da acumulação. É o caso, por exemplo, da oferta de mão de obra (que implica aspectos como a educação, a saúde e a habitação) e dos transportes. Nem mesmo a burguesia atreve-se hoje a exigir que o Estado se retire totalmente desses serviços, já que é visível a contribuição que ele dá, assumindo parte deles, ao processo de acumulação; ela limita-se a tentar impedir que os trabalhadores e os setores burgueses mais fracos tirem partido disso, para o que postula sua operação em termos de estrita rentabilidade. As massas, inversamente, tendem a propiciar a transferência maciça desses serviços para a área estatal, entendendo que ali o critério que regerá sua realização será, não o da rentabilidade, mas o do interesse social. Aí estão duas concepções distintas sobre o alcance e os princípios reitores da ação estatal, que se defrontarão fatalmente nos debates da Constituinte.
A intervenção do Estado na economia não se esgota na regulação e vai até o ponto de transformá-lo em capitalista direto, mediante a criação e operação de empresas públicas na esfera industrial e financeira. Este é o aspecto que mais exaspera a ideologia liberal, embora os investimentos estatais tendam normalmente a dirigir-se a atividades que a burguesia não quer ou não pode explorar. Trata-se de setores de ponta, que impulsionam a economia para novos patamares – a indústria siderúrgica, automobilística, de exploração de petróleo, ontem, e, hoje, a aeronáutica, eletrônica, nuclear, espacial – e que, além do mais, em países como o Brasil, têm que ser assumidos primariamente pelo Estado, a outra opção sendo a de entregá-los ao capital estrangeiro. O movimento popular – e as camadas inferiores da burguesia compartem com ele este ponto de vista – não tem o menor motivo para apoiar o traspasso das empresas públicas ao setor privado e tem muitos para não fazê-lo. Com efeito, ou elas estão em atividades de baixa rentabilidade, caso em que o Estado não seria substituído pela burguesia, que as deixaria abandonadas; ou se trata de setores altamente rentáveis, cujo excedente fica melhor nas mãos do Estado – mais suscetível à pressão popular em relação à sua utilização – que nas dos grupos capitalistas privados.
Para os trabalhadores, a questão não está pois em reduzir a ação do Estado na economia, como pretende o grande capital, mas em reforçá-la e estendê-la. Sob uma condição, porém: a criação de mecanismos eficazes de fiscalização e controle das atividades econômicas do Estado por parte dos partidos e organizações populares. Convém fazer aqui certas precisões. A passagem do Estado liberal ao Estado intervencionista deu-se assegurando o seu caráter de classe e garantindo, portanto, sua instrumentalização por parte da burguesia; se é certo que esta não se pode fazer inteiramente através do parlamento, reforçou-se entretanto na esfera do executivo, mediante a aglomeração do capital privado com o Estado e a criação de mil vias de ligação entre ambos – a ponto de dar origem a uma rica reflexão teórica em torno ao que se chamou de capitalismo monopolista de Estado. O neoliberalismo, expressando o ponto de vista de uma burguesia que, desde os anos 50, no Brasil e nos grandes centros capitalistas, aumentou constantemente seu poderio, pretende hoje restaurar em certa medida a estrutura e o funcionamento do Estado burguês representativo clássico, cerceando a margem de ação do executivo e devolvendo atribuições normativas e fiscalizadoras ao parlamento.
Isso não pode interessar aos trabalhadores. Nem eles querem limitar a ação econômica estatal em si, que se exerce através do executivo, nem têm por que optar pelo reforço do parlamento. A menos que se lograsse que este, deixando de ser o poder irresponsável que é no regime burguês parlamentar, passasse a responder por suas ações ante seus eleitores e aceitasse que eles pudessem revocar os mandatos dos representantes que não contassem já com a aprovação das bases. É pouco provável que este princípio, consubstancial à plena democracia popular, possa aplicar-se no Brasil de hoje. Mas, neste caso, a restauração do parlamento como instância principal de poder significa continuar o processo mediante o qual se está subtraindo às massas os frutos da redemocratização, para convertê-la em exclusivo instrumento de promoção dos interesses burgueses.
Resumindo: o movimento popular não postula o debilitamento do executivo em favor de um parlamento que não se submete ao controle de suas bases e onde sua representação será via de regra minoritária – com o que ele não pode ser para os trabalhadores mais que tribuna para a propaganda e a denúncia; seu objetivo é o de ampliar seu grau de organização e aumentar sua ingerência na formação e no controle da política do Estado, reforçando-o tanto quanto o permitir a sua própria capacidade para influir na sociedade.
Nesta perspectiva, não é o transpasso das empresas públicas ao setor privado a palavra de ordem do movimento popular e nem mesmo a maior fiscalização do Congresso sobre elas. É sua conversão em empresas autogestionárias – o que assegura a presença ativa dos trabalhadores na elaboração e condução de suas políticas – e a formação de conselhos setoriais, com a representação dos partidos e organizações sociais – o que permite a participação direta dos usuários em matéria de sugestões, controle e fiscalização das empresas. Esta fórmula, que tanto se aplica à Petrobras como às universidades públicas (onde o conceito de trabalhadores abrange naturalmente os estudantes), só não serve ali onde o Estado pratica estritamente a regulação, como na fixação do salário mínimo ou no controle de preços; neste caso, não cabe transformar o órgão estatal em empresa autogestionária, mas sim submetê-lo a um conselho setorial, representativo dos interesses que a ação do Estado afeta. Trata-se, em suma, para os trabalhadores, de constituir uma estrutura de pressão e controle sobre o aparelho estatal, no claro entendimento de que esse aparelho de fato não lhes pertence.
Essa estrutura de pressão e controle atuará com tanto maior eficiência quanto mais imediato for o ponto visado no aparelho estatal. Neste contexto, há um tema da pregação liberal que interessa aos trabalhadores: o da regeneração da Federação, que implica devolver autonomia e iniciativa aos municípios. É o município, com efeito, o nível mais favorável à ação das massas, quanto mais não seja porque ali – dado o caráter minoritário da burguesia e sua dispersão no plano nacional – o peso do bloco popular e de seus eventuais aliados tende a ser esmagador. A tal ponto que permitirá, em mais de um deles, passar da política de pressão e controle à política de poder, isto é, à conquista de prefeituras e câmaras municipais. Isto não mudará o caráter de classe do Estado brasileiro, mas será uma excelente escola de formação de quadros para a gestão do futuro Estado popular e um momento-chave na acumulação de forças para chegar a ele. Favorecerá também a assimilação, nas condições atuais do país, da lição do processo revolucionário chileno em relação à combinação das formas de luta e de exercício de poder nos órgãos de poder popular, que tanta influência exerce nos países latino-americanos onde a luta de classes alcançou níveis superiores, como Cuba e Nicarágua.
Para muitos militantes de esquerda, o que aqui se expõe poderá parecer pouco motivador; para outros, provavelmente não tão de esquerda, demasiado ambicioso. Na realidade, nessa reflexão tem um pressuposto apenas insinuado e que convém explicitar agora: o de que, junto a um notável desenvolvimento das organizações de massas, vivemos ainda um período de pobreza ideológica, política e, especialmente, partidária. Nestas circunstâncias, quem pretenda avançar com a história terá que se apoiar no que nela é força dinâmica – o movimento de massas – propiciando-lhe conquistas efetivas na esfera institucional e, simultaneamente, preocupar-se com a formação de uma corrente ideológica, política e partidária capaz de orientá-lo em sua luta pela conquista do poder. A prática consequente de uma política de pressão e controle sobre o Estado burguês permitirá às grandes massas avançar em seu processo de organização, deslindará claramente o seu campo do da política liberal burguesa e lhes proporcionará, senão todas, pelo menos algumas conquistas institucionais capazes de servir de degrau para outras.
A criação de uma corrente ideológica, política e partidária representativa das grandes massas não será, certamente, o ponto de partida da campanha da Constituinte, mas poderá vir a ser o de chegada. A reorganização da sociedade brasileira implicará um vivo debate, porá em confronto as forças dispersas da esquerda e lhes exigirá, ante a ofensiva burguesa já em curso, um grau superior de solidariedade e ação comum. O êxito desse processo é condição necessária para que o movimento popular possa passar da política de pressão e controle à política de poder em todos os níveis. Será, então, possível levantar com realismo a proposta do Brasil socialista, a única que atende os interesses dos trabalhadores e que abre de fato as portas para a solução dos problemas do país.
Ruy Mauro Marini